Melissa é uma adolescente de 14 anos que conheci no interior do Nordeste, na divisória entre o Agreste e o Sertão. É a filha mais velha de Euricéia que, há alguns anos, foi viver com outro companheiro, com o qual teve mais três filhos. É um alcoólatra, praga disseminada no interior do Nordeste. Quando está alcoolizado, vem à tona o pior da cultura machista da região: a definição da mulher como inferior ao homem, a crença de que as mulheres são um corpo auxiliar do homem, e que seus companheiros podem deflagrar violência incontida contra ela. Melissa defende Euricéia, mas, por ser mulher, sua defesa não encontra legitimidade na população nem nas instituições. Na última surra, Melissa tentou segurá-lo e impedi-lo de continuar chutando e socando a mãe. A agressividade do padrasto se voltou contra ela: enfurecido, agarrou uma chave de fenda e bateu na cabeça de Melissa, que perdeu a audição em um ouvido. O dano é permanente. Tinha 13 anos quando isso aconteceu.
Redes sociais interpessoais, particularmente de familiares e de amigos, são importantes porque facilitam sair do ambiente violento, concedem um tempo para respirar, um lugar para ficar, às vezes acompanhado de quantidades pequenas de dinheiro para necessidades mínimas. Euricéia não tinha rede local pessoal e as instituições preferiam ignorar situações como essa; por isso, sofreu durante anos. Há leis que de fato não vigoram em todo o território nacional; há bolsões onde a cultura impede a sua aplicação. As instituições que existem na realidade são muito diferentes das que encontramos no papel. As instituições não a protegiam, a ignoravam. Ao contrário, uma rede de pessoas e instituições guiadas por uma cultura machista funcionava contra ela. A solução apareceu, casualmente, quando um contribuinte da instituição católica que a ajudava assistencialmente e educava os seus filhos resolveu comprar a briga.
Porém, essa briga não é entre bandidos e mocinhos. Euricéia já havia sido culturalmente amputada. Não era uma santa lutadora.
Recebeu uma casa simples para morar. Uma das condições para permanecer na nova morada é cuidá-la, consertá-la etc., não obstante, Euricéia não faz nada disso, sob a alegação de que "isso é coisa de homem". As interpretações dos que a conhecem variam desde considerá-la uma vítima, até uma preguiçosa à espera de um homem para "tomar conta" dela e dos filhos, uma postura chamada de Complexo de Cinderela por Collette Dowling, uma jornalista americana. Essas amputações são frequentes e imobilizam muitas mulheres.
Aguentar esse tipo de violência durante anos não é exclusividade de pobres ou residentes do sertão. Patrícia é uma psicóloga que cresceu numa família funcional. Namorou e, aos três meses, engravidou. Sua história é exemplo da importância da rede de apoio, no caso, uma importância negativa. A família dela se opôs ao casamento, mas a dele não informou Patrícia sobre com quem ela iria se casar, para que exercesse seu direito de escolha, uma escolha baseada em informações reais a respeito do parceiro. Em pouco tempo, Patrícia descobriu com quem se casara: um dependente químico, que vivia de golpes, tinha ficha policial, e era extremamente violento quando drogado ou alcoolizado. A rede da família do marido, embora gostasse de Patrícia, ocultou os vícios do rapaz, talvez na esperança de que o casamento o "consertasse". Muitas mulheres acreditam (ou têm esperança) que podem "consertar" o marido ou companheiro. Algumas se especializam em companheiros "complicados" (alcoólatras, drogados, criminosos, deprimidos profissionais etc.). Rejeitam homens mais próximos da normalidade e escolhem os que precisam de cuidados. Querem ser mães de seus próprios companheiros e terminam servindo de sacos de pancada. É um fenômeno que começa a ser estudado e já tem nome: co-dependência.
Em poucos dias, Patrícia passou a viver o pesadelo da violência doméstica. Seu primeiro filho nasceu prematuramente, devido aos chutes recebidos na barriga. Porém, sua família se negou a recebê-la de volta, alegando que foram contra o casamento e que ela deveria arcar com as consequências de sua decisão. Rejeição conveniente e confortável, que eliminava os problemas que seus membros teriam que enfrentar se assumissem algum tipo de responsabilidade por Patrícia e seu primeiro filho. A rede mais importante a que as mulheres brasileiras têm acesso, a família, não a protegeu. Patrícia perdeu o emprego devido ao absentismo e à gravidez. Apanhou muito. Foi apenas quando uma amiga se dispôs a vender um apartamento e a deixou ficar lá até que o vendesse que Patrícia pode sair de casa – por seis meses. Mas a falta de segurança e as repetidas promessas do marido a fizeram voltar; mais uma vez se descuidou e o resultado foi o segundo filho. Mas nada mudou. Piorou: mais surras e, agora, ameaça de morte com um revólver. Patrícia, sem rede institucional ou pessoal de apoio, aguentou mais dois anos e meio até decidir fugir, no meio da noite, num caminhão com os filhos e suas coisas. Fugiu para o interior do estado, sem deixar pista. Na fuga, um ato inteligente: ignorou a rede que não a ajudara quando mais precisava. Sumiu.
Patrícia teve nova chance: competente, conseguiu empregos, através de concursos, com remuneração adequada. Encontrou outro companheiro, em nada parecido com o ex-marido, que aceitou seus filhos e com quem teve outros dois. Só entrou em contato com o primeiro marido anos mais tarde, para exigir pensão para os filhos dele. Quem a paga é a família porque ele continua drogado e sem trabalho fixo. Patrícia só reconstruiu sua vida e recuperou seus direitos, porque construiu nova rede pessoal e institucional. Passou a trabalhar no Judiciário e a rede institucional, que antes protegia o ex-marido, passou a protegê-la – no papel. Obteve o direito, mas raramente recebeu parte da pensão porque o ex-marido não “segurava emprego”.
Quando a violência se origina na própria família, a primeira rede de socorro, a vítima fica sem alternativa, o que é frequente nos casos de abuso sexual. Como não temos dados confiáveis brasileiros, usamos referências internacionais. Langan e Harlow concluíram que vinte por cento dos abusos sexuais de crianças são feitos pelo pai. As vítimas de estupro são jovens. Dezesseis por cento das vítimas de estupro têm menos de doze anos e metade tem menos de 18. A média das idades quando acontece o primeiro abuso é de 9,6 anos para meninas e 9,9 anos para meninos. Não é um crime entre estranhos: em 96% dos casos, a vítima conhecia o estuprador. Tende a ser seriado, contínuo e a acontecer dentro da rede familiar onde a relação entre vítima e monstro é permanente, o abuso tende a aumentar e dura, na média, quatro anos. Noventa e seis por centro dos que abusam são heterossexuais e mais da metade deles abusa outras crianças, dentro ou fora da família. O abuso sexual é um padrão comportamental.
É o caso de Tatiana, vítima de abuso sexual do pai e da mãe. É isso mesmo: do pai E da mãe. Hoje, com trinta e vários anos e seriamente traumatizada, não consegue se lembrar das primeiras vezes em que o abuso aconteceu. Sabe que era obrigada a participar das relações entre o pai e a mãe e que o pai fazia sexo oral nela. Sabe que não houve penetração, mas que o pai "se esfregava" nela. Os pais se separaram, mas continuaram a se visitar e a levá-la contra a vontade. Os demais membros da rede familiar não entendiam a resistência de Tatiana a visitar o pai, nem suas constantes fugas quando o pai visitava. Atribuíam o problema à criança, que consideravam difícil e agressiva.
O abuso sexual não sai barato, nem suas pesadas consequências se limitam a mulheres típicas da cultura de países industriais ocidentais: Haj-Yahia e Tamish, estudando vítimas palestinas, constataram maior incidência de psicoses, ansiedades, fobias, paranoias, depressão, TOC e outros problemas psicológicos entre vítimas do que em um grupo controle com características semelhantes. Pesquisas em outros países produziram resultados iguais.
As denúncias de abuso sexual são regularmente examinadas no que concerne veracidade e detalhe: dois por cento das feitas por crianças são falsas, percentagem que aumenta para seis entre adultos, mas esses patamares não valem para todas as culturas onde houve pesquisas.
Muitas destas violências não chegam a ser conhecidas pelas “autoridades”; trancafiadas nos segredos de família. Infelizmente, o abuso sexual de crianças acontece frequentemente, com a conivência e/ou a omissão culposa de outros membros da família.
O abuso de Tatiana durou toda a infância, até a morte do pai, quando ela tinha doze anos. Foram necessários mais dezesseis anos até que ela conseguisse falar a respeito, primeiro com a terapeuta, depois com algumas amigas e membros selecionados da família.
Pensou e planejou suicídio, e desejou a morte dos pais, mas não a planejou. Tem sérios problemas psicológicos que atribui aos muitos anos de abuso sexual – no mínimo quatro.
As entrevistas relatadas (Melissa, Euricéia, Patrícia e Tatiana) são parte de um projeto maior sobre violência doméstica. Foram pessoais, com corroboração de, pelo menos, uma pessoa não participante. Todos os nomes e outros identificadores foram alterados, mas as pessoas existem e as estórias são verdadeiras.
Acontece, nesse momento, com milhões de brasileiras e brasileiros.
Há um mês reencontrei Tatiana. Continua lutando contra as depressões e a síndrome de estresse pós-trauma. Tatiana conheceu duas irmãs mais jovens, filhas do mesmo pai. Ambas tinham sido estupradas pelo pai. O estupro era rotineiro.
Gláucio Ary Dillon Soares
IESP/UERJ
Esse texto, originalmente, foi publicado como artigo no GLOBO e editado posteriormente. Coloco nas mídias sociais em um esforço de informação e de conscientização. Foi revisto vários anos após, em agosto de 2017, em função de fatos novos, as conversas de Tatiana com suas irmãs menores (de outra mãe).
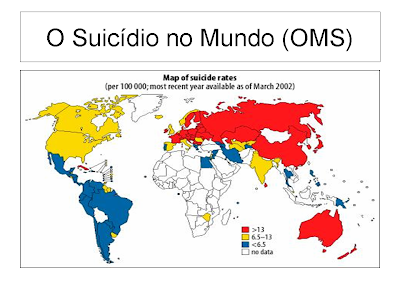
Comentários